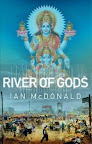24 Maio 2009
Dos Deuses, o Rio que poderá enganadoramente ser o Ganges. A certo ponto McDonald afirma que a Índia não é a terra do individual mas do colectivo, que tudo é confluência e experiência partilhada, e para tal compara-a a uma viagem de comboio (também simbolizando o destino) cuja paragem final é a da própria morte, a qual acaba retratada, na perspectiva indiana, como uma troca de locomotivas, um entroncamento, em suma, uma fase da viagem e não o fim da mesma - algo que não encontra reflexo no pensamento ocidental, que consideraria o comboio como uma prisão, enquanto imposição da vontade de outrém e perda da liberdade individual, e a morte... bem, o que efectivamente é.Efectivamente nunca saberemos na pele se esta é a verdadeira perspectiva dos nados e mortos em indo-território, a não ser que alternassemos de universo e de vida e mergulhássemos de cabeça num renascimento, dentro deste território milenar do misticismo e que como tal se assume (e é encarado mundialmente), mesmo em pleno século XXI da dita globalização e da procura de deuses mais sofisticados - algo que McDonald, sendo escritor e por isso incorrendo no pecado dos escritores de nos quererem convencer que em meras palavras conseguimos adoptar a alma de outrém, muito ardilosamente tenta conseguir. E são palavras rápidas, frases que nos atiram para outras frases, somos passados de mão em mão numa escuridão desconcertante que só no absoluto movimento alcança significado. Nada no livro nos convida à contemplação. McDonald não detém o veículo que conduz para nos explicar ou encantar, ele que saberá centenas de histórias e milhares de pormenores derivados da sua extensa pesquisa. O guia veio bem preparado, mas está com pressa, tem outros fins em mente, não se incomoda com o obséquio das apresentações. Estamos num comboio de alta velocidade, os conceitos surgem e passam, estão do outro lado da janela, não os tocamos, não nos tocam. Ele não quer que percamos tempo com o que já devíamos saber. A viagem acaba por ser um destino, e não um percurso. Um compasso de espera para observação enquanto a estação final, aquela onde a história do viajante realmente começa, não chega - uma atitude deveras ocidental.
É no entanto um percurso enebriante, pois as paisagens são coloridas e os eventos apresentados com salpicos de linguagem e maneirismos locais, tanto que se torna difícil, no conforto e protecção da nossa cabina de passageiros, de desviarmos o olhar. O guia sabe bem o que chama a nossa infantil atenção. Há um grau de virtuosismo evidente, um orgulho na exibição de poses de difícil equilíbrio que não esperaríamos de um britânico de meia-idade radicado naquele pedaço roubado pela Grã-Bretanha à Irlanda - o roubo consentido, tão incongruente à noção de uma Europa unida (a par de Gibraltar, por sinal) que por si só a invalida. O britânico tem plena consciência disso, e por isso explica pouco - talvez por saber que numa era internética todo o conhecimento pode ser questionado, mas creio que será mais pela incapacidade em efectivamente extrapolar para além do razoável a evolução de uma terra que não é a sua, o progresso de uma cultura que não moldou o seu modo de pensar, a alteração de um contrato social cheio de limitações e cláusulas em letras miudinhas - como qualquer contrato social - que não lhe limitou as opções de vida, ao contrário do que acontece com qualquer escritor indiano. Perceber esta limitação não é um defeito, antes um acto de plena honestidade, e como tal não oferece mais do que é capaz, não explica além do ele próprio entende. O resto... o resto é pecado de escritor, mas um pecado paternalista, pois procura tranquilizar o nosso sono com ideais de um futuro no qual a tecnologia, e logo o Homem, se proclama como único e absoluto Redentor de si mesmo.
E o que oferece McDonald? Nada mais que um tradicional conto de FC (questões quânticas e problemas informáticos, como convém na era pós-século XX da física) - universos paralelos, transsexualidade, corporações à escala nacional, e o paradigma do Alienígena Entre Nós em que se tornaram as Inteligências Artificiais (I.A.s) à solta, o único artificio literário da FC que ainda é aceite como factor quase divino pela mente céptica, tecnocrática, do leitor de FC. Sobre este enredo, ou a sustentá-lo, situa-se o filtro colorido da Índia, em jeito de cenário, um toque de caril, um cheiro a cravinho, um volteio de saris. A tecnologia impele o enredo, a tecnologia justifica o enredo, a tecnologia proporciona o desfecho do enredo. Mas é uma tecnologia completamente ocidental. Ainda que o polícia da unidade Khrishna tenha baptizado as suas armas I.A, de acordo com as divindades do panteão hindu, consoante as respectivas funções informáticas, isto não passa de uma cortina de fumo - é uma tecnologia nascida do método científico, da evolução de racionalismo da mentalidade europeia, da cibernética norte-americana e dos laboratórios de investigação&desenvolvimento japoneses. Não algo que Bangladesh tivesse concebido em isolamento segundo a sua maneira muito própria de pensar.
O que não é necessariamente mau. Se o livro se destaca no espírito do leitor habitual da FC, se as palavras saltam das páginas e é acolhido como um dos grandes romances de FC deste início de século, não deixa de ser também por esta rendição absoluta, perfeita, ao poderio do mundo físico sobre o mundo do espírito. Por esta subversão do que a Índia é e do que representa a nível de conceito, das suas pretensas religiosidades e encantamentos e posições de lótus, como se fosse suposto esquecermo-nos da exploração desumana dos trabalhadores, do sistema de castas tão ou mais nocivo e impermeável que o racismo no Ocidente, da pobreza imensa, imunda, que invade o olhar do turista e lhe revela a verdadeira Índia, a Índia do intenso desrespeito pela natureza sagrada da vida humana. Não seria a intenção do autor, e possivemente é uma interpretação contrária à sua vontade, mas o que conseguiu demonstrar - pelo menos na sua incursão de turista ocidental convicto da salvação da espécie pelo conhecimento das leis físicas, genuínas, do universo - foi a incapacidade de conciliação da ficção científica ocidental com os arquétipos religiosos do oriente. Pelo menos quando a solução literária do romance de ficção científica é de apresentar um futuro de glória tecnológica.
Haveria outra solução? Possivelmente. Mas creio que não ao nível da ficção científica Tal Qual a Conhecemos. A ocorrer o nascimento de uma indo-FC, esta terá de provir das mãos de autores próprios à terra, autores com o mínimo dos contactos com a FC ocidental e que consigam desenvolver um racional literário e especulativo baseado na expansão e conhecimento intrínsecos ao país. O erro de McDonald foi precisamente de querer seguir a norma. Frank Herbert, neste aspecto, ao negar o desenvolvimento científico e tecnológico do universo de Dune e basear a narrativa em arquétipos messiânicos, conseguiu o que poucos imitaram: um universo fantástico conciliado com os ditames culturais do povo no qual se baseava. Dune, que se passa noutro planeta, é mais fiel ao que seria uma ficção científica islâmica do que River of Gods, decorrendo na própria Índia, o é a respeito da cultura indiana.
Não deixa contudo de ser um dos grandes romances da Ficção Científica. Para conhecerem mais a seu respeito, sugiro que leiam os textos de João Seixas e Nuno Fonseca, estes sim críticas na verdadeira acepção da palavra, a respeito da obra que este mês o Círculo de Leibowitz se comprometeu a apresentar-vos.